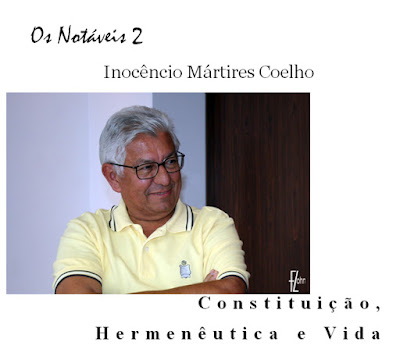7.12.09
Conversas acadêmicas: com Inocêncio Mártires Coelho (I)
Parte 1
O professor Inocêncio Mártires Coelho é membro fundador e presidente do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), onde também é professor de Direito Constitucional, lecionando as disciplinas Filosofia do Direito e Teoria da Constituição e Hermenêutica Constitucional. É doutor em Direito pela Universidade de Brasília com a tese A contribuição de Luís Recaséns Siches à Filosofia do Direito (1969). É professor titular aposentado da Universidade de Brasília. É subprocurador-geral da República aposentado, já tendo exercido o cargo de procurador-geral da República. Escreveu os livros Interpretação Constitucional, Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais e Curso de Direito Constitucional, os dois últimos em parceria com Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco.
Os Constitucionalistas: Por que o senhor escolheu Direito?
Inocêncio Mártires Coelho: Costumo dizer que escolhi o Direito, com toda a honestidade, por uma espécie de opção residual. O que eu queria estudar mesmo era Filosofia, Sociologia ou Antropologia. Mas no meu tempo e no meu Estado de origem, no Pará, as opções eram muito poucas: ou Direito, ou Engenharia, ou Medicina. Então, como eu não dava nem para Engenharia, nem para Medicina, acabei, residualmente, estudando Direito. A expressão é jocosa e foi usada pelo professor João Baptista Villela, notável professor da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Direito de Família. Ele dizia: “Se ninguém dá para Física, Química e Biologia, eis uma vocação natural para jurista”. Já escrevi, inclusive, um trabalho sobre isso. Então, na verdade, foi mesmo uma vocação residual. Mas fui castigado por isso! O Direito me encantou, me embeveceu, me apaixonou! Hoje eu costumo dizer que devo ao Direito tudo, até felicidade. Não há dívida maior. O Direito me possibilitou crescer por dentro e crescer e fazer crescer por fora. Pude com o Direito realizar uma vocação de compartilhamento de ideias, informações e estudos. Repartir línguas, compartilhar livros, educar meus filhos, ajudar os meus irmãos a crescer e, numa certa conjuntura da minha vida, ser até Papai Noel dos meus irmãos menores. Isso já por conta dos ganhos que o Direito me havia dado. E, por último, mas não menos importante, o Direito me deu o direito de ser independente. No dia em que me formei, quando o papai me entregou meu anel, eu só lhe disse isso: “Obrigado, papai! Nunca mais eu terei medo de ninguém!”. E a partir daí nunca mais tive medo de ninguém. Sou temente a Deus, mas Deus não é ninguém, é Tudo. Então o Direito me deu tudo, me deu até felicidade.
“
O Direito me possibilitou crescer por dentro e crescer e fazer crescer por fora. Pude com o Direito realizar uma vocação de compartilhamento de ideias, informações e estudos.
”
OC: E por que no Direito, professor Inocêncio, o Direito Público?
IMC: É outra pergunta interessante que me leva a um tipo de reflexão. Talvez eu pudesse dizer que foi uma opção conjuntural. E por quê? Regime político fechado, a Universidade de Brasília tinha uma singular situação: havia dois grandes professores de Direito Constitucional disponíveis. Na direita, Moreira Alves, que era o chefe de gabinete do Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid; à esquerda, Josaphat Marinho, senador pelo MDB. Nenhum dos dois queria correr o risco de entrar numa sala para lecionar Direito Constitucional e ser incomodado por pressões de uma forma ou de outra. O espaço estava aberto e eu me dispus a ir [lecionar Direito Constitucional], depois de ter me doutorado em Filosofia do Direito, porque “filosofar” era realmente o que eu queria fazer. Então, eu disse o seguinte: “Eu posso dar um curso de Direito Constitucional kelseniamente”. Por que isso? Porque a doutrina de [Hans] Kelsen permitia, está dito no prefácio da Teoria Pura do Direito, dar um curso aberto a todas as concepções, porque era um curso puramente formal. Era pura forma. E ele havia dito, numa passagem da Teoria Pura do Direito, que todo conteúdo podia ser Direito, o que era o máximo do formalismo. Darei um curso kelseniano de Direito Constitucional, ficando “dentro” da pirâmide normativa, assentada na Constituição como forma e norma fundamental; mas astuciosamente eu estava preparando um retorno ao conteúdo. Logo a seguir, passada aquela fase de turbulência, Roberto Lyra Filho resolveu dar um curso sobre Ideologia e Direito. Então eu disse: “É por aqui que eu vou entrar!” E demos naquela conjuntura, em verdade, o primeiro curso sobre Marxismo e Direito, livre de qualquer peia, porque começava a se abrir o regime. Então, entrei “acidentalmente” pelo Direito Constitucional, mas fiquei infectado por ele, e nunca mais me libertei. A seguir, passei a trabalhar o Direito Constitucional numa outra vertente. Trazer para dentro da reflexão do Direito Público aquela bagagem filosófica que o doutorado em Filosofia do Direito tinha me dado. Caí como que por gravidade nos direitos fundamentais.
“
Passei a trabalhar o Direito Constitucional numa outra vertente. Trazer para dentro da reflexão do Direito Público aquela bagagem filosófica que o doutorado em Filosofia do Direito tinha me dado. Caí como que por gravidade nos direitos fundamentais.
”
OC: No artigo “A ditadura do laicismo”, publicado na Folha de São Paulo, de 7 de novembro de 2009, o professor Ives Gandra da Silva Martins criticou a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, que condenou a presença de crucifixos em escolas públicas da Itália. Ele escreveu que “Numa democracia, é a maioria que deve decidir os seus destinos. E a maioria acredita em Deus”. O senhor concorda com o professor Ives Gandra? O direito fundamental à liberdade religiosa pode ceder à vontade da maioria?
IMC: Curiosa essa pergunta… Por coincidência, há poucos dias eu mandei um e-mail para o Ives Gandra comentando esse artigo dele. E disse ao Ives: “Querido Ives, li com grande prazer, espiritual e temporal, o seu artigo. Confesso-lhe que vez por outra, embora cristão convicto, eu me sinto meio perplexo na opção entre a razão e a fé, entre a filosofia e a religião”. Escrevi no e-mail: “Conforta-me a lembrança do que disse João Paulo II: “Ser que busca a verdade, o homem é também aquele que vive de crenças”. Os argumentos de Ives são de duas ordens. Do ponto de vista religioso, ele é um cristão, que eu chamaria exacerbado no bom sentido. Do ponto de vista técnico-jurídico, ele invoca o princípio da subsidiariedade, dizendo que faz parte da normatividade da União Europeia que não se decida no centro o que pode ser decidido na ponta, na periferia. Mas isso não me resolveu o problema da perplexidade. É que eu me lembrava também de Roberto Lyra Filho, meu saudoso mestre, a dizer: “O elevador da filosofia nos conduz até o último andar, mas o acesso à cobertura, só pela escada da fé”. E eu ainda hoje procuro essa escada da fé para chegar à cobertura. Ainda não cheguei! Confesso-me em perplexidade, confesso-me em dúvida, e muito abalado pelas reflexões de Ives. É que não me parece razoável banir das salas de aula oficiais um símbolo cristão como é o Crucifixo, o símbolo maior da cristandade, em homenagem a uma concepção exacerbada não do direito fundamental a não crer, mas o direito de impor a uma maioria crente a descrença de uns poucos. A propósito, na última edição do nosso Curso de direito constitucional, enfrentei a questão do preâmbulo [da Constituição], lembrando que na Constituinte se discutiu se se mantinha ou não a evocação a Deus no ato da promulgação do texto constitucional. Lembrei novamente de Lyra, essa discussão não causava espécie. Ele dizia “O ateísmo é uma religião com sinal trocado”, porque ainda quando você nega a existência de Deus, Ele está presente na sua afirmação, logo Ele é objeto das suas reflexões. Para os que creem, eu completei, não é o figurar no texto que faz com que Deus esteja presente na Constituinte. Ele estará ali independentemente disso. Porque Ele é onipresente. Para os que não creem, não faz mal nenhum colocá-Lo ali, porque se Ele não existe, não adiante invocar-lhe a presença. Então colocar ou não colocar Deus no texto constitucional não faz nenhuma diferença. Rendamo-nos, então, à vontade da maioria, à crença da maioria e coloquemos aquela invocação, porque não causará nenhum mal psicológico, muito menos teológico, a quem quer que seja. Estou muito mais inclinado hoje a ficar com Ives contra uma convicção extremamente laicizada, de um racionalismo formal, [que entende] que tirar o crucifixo das salas de aula das escolas públicas é respeitar o direito dos que não creem e até mesmo dos agnósticos, a quem Marx qualificou ironicamente de “ateus covardes”. Não se trata absolutamente disso. Deixa Deus lá nas escolas! E para concluir a minha resposta, diria que essa discussão é típica dos países centrais. Porque tendo satisfeito as necessidades essenciais das pessoas, assegurando-lhes comida, água, luz, educação, por exemplo, podem se dar ao luxo de discutir símbolos. Mas nós ainda não chegamos nesse momento. Quando tivermos conseguido esses bens materiais indispensáveis, então cuidaremos do crucifixo. Num outro momento, numa outra conjuntura.
“
Não me parece razoável banir das salas de aula oficiais um símbolo cristão como é o crucifixo, o símbolo maior da cristandade, em homenagem a uma concepção exacerbada do que é, não o direito fundamental a não crer, mas o direito de impor a uma maioria crente a descrença de uns poucos.
”
OC: Hoje um dos requisitos para se tornar magistrado é possuir três anos de atividade jurídica. O senhor concorda com esse requisito temporal?
IMC: Não, porque acho que o juiz deve ter é maturidade e não experiência jurídico-profissional. Lembro-me que quando era procurador-geral da República, e nessa condição presidente das comissões de concurso para ingresso no Ministério Público Federal, eu liberava praticamente todos os que vinham se inscrever. Eu queria recrutar [pessoas] capazes de crescer e não pessoas com saber consolidado. Porque quem está com o saber consolidado e procura alguma carreira no serviço público, das duas uma: ou está desconfortável na situação atual, ou pretende conseguir uma aposentadoria com proventos integrais. Eu prefiro o jovem sem pré-conceitos para, eventualmente, torná-lo preconceituoso numa outra direção. Então acho que essa exigência… Por que não quatro anos, por que não três e meio? Quando eu terminei a faculdade, por exemplo, creio sem nenhuma vaidade que teria passado em todos os concursos para cargos jurídicos que estavam ocorrendo no país naquela época. Cinco anos depois, tenho certeza de seria reprovado em quase todos eles. Por quê? Porque você vai se desatualizando. Três anos de experiência jurídica numa área que não tem nada a ver com o que lhe será cobrado num concurso não tem nenhuma sentido. Por exemplo: quem foi consultor jurídico de uma determinada área de conhecimento, que não tem nenhuma repercussão na formação do magistrado, terá formalmente três anos de experiência profissional no direito, mas substancialmente nada da experiência específica que se cobra para ingressar em determinada carreira. Então, que venham os jovens com toda a sua energia. Cobrar-se deles o quê? Mais idade, maioridade, maturidade. Não se deve deixar que julgue, que declare o direito, que faça o direito, quem tem apenas 21 anos de idade. E por quê? Porque não acumulou experiência. Só viu poucos filmes e confunde os poucos filmes que viu com toda a extensa possibilidade de ver outras coisas. Quem não passou pela vida não viveu.
“
Não se deve deixar que julgue, declare o direito, faça o direito, quem tem 21 anos de idade. E por quê? Porque não acumulou experiência. Só viu poucos filmes e confunde os poucos filmes que viu com toda a extensa possibilidade de ver outras coisas. Quem não passou pela vida não viveu.
”
OC: Qual seria então a idade mínima para ser juiz?
IMC: Depois de ter sido procurador-geral da República com 40 anos e ter errado muito, costumo dizer que 40 anos é pouco para ser chefe do Ministério Público da União. Mas, olhe bem, se a Constituição exige 35 anos para alguém ser senador ou ministro do Supremo, por exemplo, creio que essa idade está de bom tamanho para ingresso na magistratura. Agora, 21 anos, é que não dá! Porque a impetuosidade própria dos 21 anos é incompatível com a serenidade de quem vai arbitrar conflitos e proferir decisões que transcendem os autos para se transformar em atos que atingem a vida dos outros. Julgar é decidir sobre o destino humano. Se “Legislar é fazer experiências com o destino humano”, como disse Jahrreiss, citado pelo Gilmar [ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal], julgar é também fazer experiências com o destino humano. Ninguém com 21 anos pode julgar absolutamente nada. Ainda está em fase de aquisição de maturidade.
“
Mas, olhe bem, se a Constituição exige 35 anos para alguém ser senador ou ministro do Supremo, por exemplo, creio que essa idade está de bom tamanho para ingresso na magistratura. Agora, 21 anos, é que não dá!
”
OC: O que hoje é constitucional amanhã pode ser inconstitucional e vice-versa. Quem vive uma metamorfose ambulante: o intérprete ou o tribunal?
IMC: Os dois. O intérprete e o tribunal são uma só e mesma coisa vista de dois lados. Tribunal é tribunal de intérpretes. Os intérpretes, enquanto juízes, são intérpretes no tribunal. Tudo muda, panta rei, tudo é eterna mudança. Então muda o tribunal, muda o intérprete e muda a compreensão que o tribunal e o intérprete têm da vida e dos textos em relação a essa vida. Há uma implicação dialética incontornável entre normatividade e vida, porque a normatividade o que é? É uma pretensão de ordenar a vida segundo normas. Mas a leitura da norma só se faz à luz da experiência. Então uma e outra coisa se hibridam.
“
Então muda o tribunal, muda o intérprete e muda a compreensão que o tribunal e o intérprete têm da vida e dos textos em relação a essa vida.
”
OC: A atribuição de novos significados à palavra “cônjuge” para fins de inelegibilidade eleitoral é um exemplo da aplicação concreta da hermenêutica?
IMC: Claro, claro! Não há norma senão norma interpretada, disse [Peter] Häberle. Então essa mudança em torno da palavra “cônjuge”, por quê? Porque a palavra “cônjuge” originariamente significava apenas pessoa casado no civil ou no religioso com efeito civil, o que é a mesma coisa; depois, se evolui para as uniões de fato entre homem e mulher; a seguir, a sociedade passa a aceitar naturalmente as uniões homoafetivas como uniões estáveis. Considera aquelas pessoas como vivendo em estado de casadas. Ou a norma acompanha a realidade ou não será norma para aquela realidade. A realidade ultrapassará a norma. Então o que fez, sabiamente, o Tribunal Superior Eleitoral? Curvou-se à realidade social. E corretamente considerou inelegível a companheira de uma prefeita que se candidatar a sucedê-la no cargo. Por quê? Porque a teleologia, a finalidade da norma já tinha sido invocada há mais tempo, quando começaram a se impugnar – eu era procurador-geral eleitoral – as uniões de fato. Nas eleições no Nordeste foram surgindo casos e, curiosamente, como foram surgindo? Separavam-se de direito os casais para usufruir as vantagens das uniões de fato e os prejudicados arguiram a inelegibilidade daqueles casais. E a Justiça se curvou a essa realidade de forma que, hoje, aceitando-se como se aceita uma união homoafetiva, isso há que se aceitar para todos os fins de direito, inclusive para fins de inelegibilidade eleitoral. Como uma sociedade que aceita, que reconhece a união homoafetiva, não pode reconhecê-la apenas para um efeito, tem que aceitá-la para todos os efeitos.
“
Ou a norma acompanha a realidade ou não será norma para aquela realidade. A realidade ultrapassará a norma.
”
OC: A Constituição é o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é? O que é a Constituição?
IMC: A Constituição não é, ela vai sendo. O Direito não é, ele vai sendo. Eu costumo dizer, vocês já devem ter ouvido isso na sala de aula várias vezes, que o Direito é um vir a ser, um dever ser, um vir a ser, um devir, na forma em que efetivamente ele venha a ser. Mas eu não tinha conseguido até hoje encontrar uma só palavra, uma só expressão para traduzir essa ideia e, agradavelmente, lendo agora A ideia do bem entre Platão e Aristóteles, de [Hans-Georg] Gadamer, encontrei essa expressão maravilhosa: “um ser devindo”. Então a Constituição é um ser devindo. Nesse sentido, também o tribunal é um ser devindo. Ambos, devindo, vêm sendo, num processo dinâmico. O Direito vai sendo realizado. Ele não é. Porque se ele fosse, não serviria para a evolução, para normatizar a vida em sociedade. Então, qualquer concepção estática do fenômeno jurídico não corresponde à realidade. É um processo permanentemente aberto, a compasso das necessidades e das transformações sociais. Vocês me perguntariam: “Mas isso não seria colocar as normas a reboque da realidade?” Eu diria: “Sim, mas só além de um certo limite”. Porque se a ordem jurídica (jurisprudência constitucional, por exemplo) ficar sintonizada com os qual uma biruta de aeroporto sempre na direção do vento da sociedade, daqui a pouco não haverá mãos para medir; daí a necessidade de que a Corte [Constitucional], dê a última palavra, numa função racionalizadora e estabilizadora das aspirações sociais. O limite da racionalidade é dado pelo quê? Pela experiência judicante dos membros da Corte; daí, também, a necessidade da idade mínima elevada, de maturação, de tempo de vida para ser juiz constitucional. Racionalizar implica captar as aspirações sociais, ponderá-las e passá-las adiante já desapaixonadas. Essa é, mutatis mutandi, a função da democracia representativa, sendo os representantes do povo os filtradores e racionalizadores dos anseios, das aspirações, do querer coletivo.
“
… a Constituição é um ser devindo. Nesse sentido, também o tribunal é um ser devindo. Ambos, devindo, vêm sendo, num processo dinâmico. O Direito vai sendo realizado. Ele não é. Porque se ele fosse, não serviria para a evolução, para normatizar a vida em sociedade.
”
OC: Como podemos influenciar o Supremo Tribunal Federal?
IMC: Primeiro, ele é quem dá a última palavra e não pode deixar de ser. Já se disse, com muita razão, que as decisões do Supremo Tribunal Federal são irrecorríveis, mas não são incriticáveis. Elas devem ser criticadas pela opinião pública, mas esta crítica só produzirá efeito na medida seja consistente. Um discurso de ofensa ao tribunal, uma passeata na rua ou uma faixa aberta com gritos no plenário da corte funcionam exatamente no sentido contrário. O tribunal é sensível ao diálogo, um diálogo que eu não chamaria respeitoso, mas apenas prudente e convincente. Meu pai costumava dizer que ouvia muito as pessoas que falavam baixo. A opinião pública, se falar baixo, será ouvida pelo tribunal, se vociferar, será identificada como uma passeata a mais, um protesto a mais, mais um ruído de rua. Então, se necessário, deve-se criticar o tribunal, mas racionalmente, cobrando dele um ajustamento quando a corte parecer fora dos trilhos. Por que isso? Porque ao fim, e ao cabo, é a sociedade a instância legitimadora da Corte. A Corte é uma criatura constitucional, a Corte não existe por si, ela só existe porque nós, por meio dos nossos representantes da Constituinte, instituímos o Supremo Tribunal Federal. E ao instituí-lo na Constituição nós o instituímos como guardião da Constituição. E na Constituição atribuímos a ele a última palavra sobre o sentido e alcance da nossa Carta Política. Ao fim, e ao cabo, insisto, se o Supremo é uma criatura da sociedade, então a sociedade que o institui e o mantém tem o direito de cobrar-lhe satisfações para ver se ele passa na “prova do pastel”, como disse Christopher Wolfe em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele disse: “A Corte passou na prova do pastel!”, e prossegue, “O que é a prova do pastel? Pastel é um produto que você come; se gostar você volta à pastelaria!”. A sociedade americana tem consumido, durante séculos, esses pastéis e voltado sempre à pastelaria para comprar mais uns tantos.
“
…o Supremo é uma criatura da sociedade, então a sociedade que o institui e o mantém tem o direito de cobrar-lhe satisfações para ver se ele passa na “prova do pastel”, como disse Christopher Wolfe em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos.
”
OC: Entrevistando o professor Marcelo Neves, ele nos disse que, com o transconstitucionalismo, o Supremo Tribunal Federal deixa de dar a última palavra…
IMC: Como ideia eu estou inteiramente de acordo. Como realidade dogmática e jurídica, não. Qual é a ideia central do transconstitucionalismo exposta pelo Marcelo? Aliás, maravilhosamente exposta! É que a matéria constitucional, o que é o constitucional, transcende as nacionalidades, transcende os ordenamentos jurídicos. É uma espécie de liga, que vai dando consistência a todas as experiências constitucionais nas diversas latitudes, nas diversas comunidades. Nessa concepção, se eu a entendi bem, o transconstitucionalismo é um diálogo a partir do constitucional de cada um, diálogo do qual resulta uma espécie de constitucional geral, de algo, digamos, transconstitucional, que perpassa as ordens constitucionais internas e, nessa medida, acaba funcionando como referente externo a ser levado em conta pelas cortes constitucionais dos diferentes países, quando tiverem de enfrentar problemas constitucionais. Se for assim, se for isso, então o Marcelo Neves tem toda a razão, pois o conteúdo da daquela última palavra já estará não será fruto de uma visão particular, de cada corte, sobre o que é ou não é constitucional, mas de uma visão supranacional ou transnacional sobre, digamos, a chamada matéria constitucional. O STF falará por último, mas o conteúdo dessa fala há de refletir a também a fala dos outros, o que eles dizem que é constitucional. Não disse Ludwig Wittgenstein que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem? Pois os limites de atuação da Corte são os limites decorrentes da sua capacidade de ler, de entender e de falar outras línguas constitucionais. O transconstitucionalismo é, assim, uma espécie de esperanto constitucional, que supera as diferenças linguísticas para que todos possam se comunicar através dele. Agora uma pergunta: qual é o sentido último desses valores que embala a ideia transconstitucionalista? É uma espécie de visão comum sobre o justo ou a justiça. E de onde brota essa visão comum? Não nos vêm do céu como uma dádiva divina, vem da terra mesmo, onde se desenvolve a “aventura humana da liberdade”, como dizia Roberto Lyra Filho.
“
os limites de atuação da Corte são os limites decorrentes da sua capacidade de ler, de entender e de falar outras línguas constitucionais.
”
OC: O neoconstitucionalismo é a palavra, o conceito do momento?
IMC: Eu vou responder começando por lembrar que o Ministro Gilmar costuma dizer que isso é uma inovação sem sentido. Não existe esse negócio de neoconstitucionalismo. Isso é mais uma palavra do que uma ideia. O que se chama de neoconstitucionalismo? Aquilo que a gente pode substituir pela expressão “uma nova concepção das Constituições como documentos normativos, como documentos materializados”. A Constituição de hoje não é mais aquela Constituição puro instrumento de governo, simples estatuto de competências ou regra de organização de Poderes. É um corpo formal e material. Se você entender a Constituição hoje como um instrumento dotado de força normativa que, além de organizar o Estado, também organiza a sociedade, então neoconstitucionalismo será esta concepção do Direito Constitucional que transcende aquela visão histórica, antiga, tradicional, que o via como Direito Político. Tanto que nem se cogitava de uma força normativa da Constituição. Trabalhava-se apenas ao nível da lei. Hoje se vê a lei através da Constituição, pela ótica constitucional. Então a expressão neoconstitucionalismo, a significar alguma coisa, há de ser apenas isto, uma nova visão da função, do papel, da importância que a Constituição passou a ter como o grande instrumento, o grande farol que possibilita a organização social e política em torno de determinados valores, que se constitucionalizam exatamente pela sua importância.
“
Não existe esse negócio de neoconstitucionalismo. Isso é mais uma palavra do que uma ideia.
”
OC: O neoconstitucionalismo não retira do Parlamento a evolução da sociedade, a compreensão dessa evolução, transferindo essa compreensão para o Judiciário?
IMC: Bem, alguns mais exagerados, como o meu querido Lenio Streck, chegam a afirmar que se deslocou o centro das grandes decisões políticas do Legislativo e do Executivo para o Judiciário. Ele acaba elegendo o Judiciário como o grande Poder. Costumo dizer que se o século XIX foi o século do Parlamento e o XX foi do Executivo, o XXI será do Judiciário. Por que essa crítica que se faz à hegemonia, ao ativismo, ao novo governo de juízes, com a ultrapassagem do Parlamento? Isso é um subproduto, que eu não chamaria perverso, mas benéfico, da materialização das Constituições. E quem as materializou foi o Legislativo. Se [o Legislativo] está perdendo alguma coisa, está perdendo porque ele vestiu com as próprias mãos a sua camisa de força. No momento em que você materializa a Constituição, carrega o seu texto com matérias que tradicionalmente não eram matérias constitucionais e institui e mantém a jurisdição constitucional, como não pode deixar de fazer, então alguém tem que dar a última palavra sobre essa nova Constituição; e essa última palavra, no dizer de [Alexander] Hamilton, deve ser dada pelos menos perigosos, os juízes, porque não têm nem o canhão e nem a bolsa, nem as armas nem o dinheiro. Então, materializada a Constituição e instituída a jurisdição constitucional, a competência para interpretá-la e aplicá-la foi por gravidade para o Judiciário, seguiu um caminho natural. E aí eu me lembro um autor que muita gente lê, poucos citam e ninguém defende… Francisco Campos. Ele dizia que a política, como a natureza, tem horror ao vácuo. Poder vago é Poder ocupado. O Judiciário não tomou de assalto esse espaço. Ele o ocupou porque estava vazio, porque dois corpos não ocupam simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Então ele entrou e ocupou um lugar que estava vazio. Então foi um processo natural. E você poderá me perguntar: “E o que vai acontecer mais adiante?” Como em todo exercício de futurologia, eu diria que nós chegaremos a uma reformulação disso, quando do reencontro entre a Judicatura e o Parlamento como dois criadores do direito que devem caminhar lado a lado, em harmonia e mútua colaboração. Mas sem que se devolva ao Parlamento o que ele tinha e perdeu, porque a natureza não dá saltos, nem para trás para a frente. Não se inverte a flecha do tempo, assim como não se queimam etapas. Haverá aquele processo: incorporação, transformação, cancelamento e superação de elementos ou fatores, no âmbito de um processo aberto e infinito. A próxima etapa será de um Judiciário forte e de um Parlamento que, provocado pelo ativismo judicial, tomará decisões capazes de inibir o próprio Judiciário, de impedi-lo de ir além dos seus limites. Nenhum juiz quer ser legislador. Quer sim, que as suas decisões sejam tidas como aplicação das leis, e não como substituição das leis.
“
A próxima etapa será de um Judiciário forte e de um Parlamento que, provocado pelo ativismo judicial, tomará decisões capazes de inibir o próprio Judiciário, de impedi-lo de ir além dos seus limites. Nenhum juiz quer ser legislador. Quer sim, que as suas decisões sejam tidas como aplicação das leis, e não como substituição das leis.
”